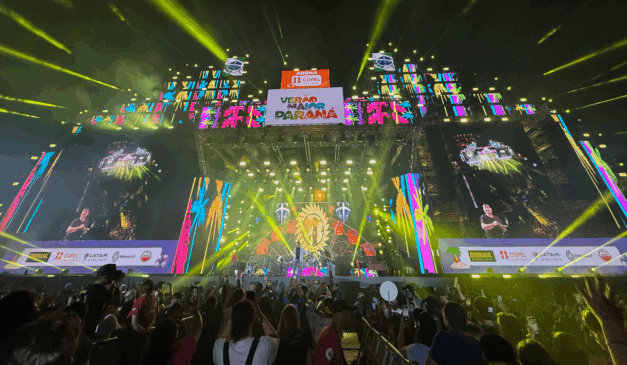O espetáculo paulista Ricardo III, encenado no Festival de Curitiba, é parte do Projeto Shakespeare 39, que pretende encenar as 39 peças do maior dramaturgo inglês nos próximos 10 anos. Escrita em 1591, a trama é ambientada no final da Guerra das Rosas, durante o conflito sucessório pelo trono da Inglaterra entre 1455 e 1485. No início do primeiro ato, Eduardo IV, yorkista, é rei; mas seu irmão, o “torto” Ricardo, Duque de Gloucester, se sente merecedor do trono. Não basta que o rei morra, há mais gente na linha de sucessão. Assim, para usurpar o trono, Ricardo irá provocar intrigas, matar aliados, amigos e parentes. O esqueleto do verdadeiro Ricardo III, morto na batalha de 1485 que encerrou a guerra, foi encontrado em fevereiro do ano passado, em Leicester. Se pensava que Shakespeare havia deformado fisicamente o personagem para realçar sua deformidade moral, mas a coluna do esqueleto confirma a realidade do problema.
Pela leitura da obra, o maior vilão Shakesperiano poderia ser considerado algo entre psicopata e esquizofrênico-paranóico: não parece ter sentimentos e fala diretamente com o espectador. Isto é, aliás, um dos fascínios que a peça traz, pois torna o público não apenas testemunha, mas coadjuvante da ação. Fico imaginando como tenha sido a montagem dirigida pelo próprio Shakespeare, 100 anos após a morte do verdadeiro Ricardo, numa época em que o público podia interferir nos espetáculos. Teriam jogado tomate no personagem?
A montagem de Marcelo Lazzaratto não segue pela ousadia ou pela inovação cênica, parece querer realçar o belo texto e a compreensão da trama através da interpretação dos atores (bem trabalhada nos diálogos e nos solilóquios. Cenário, sonoplastia e iluminação estão ali para criar climas e garantir a tensão necessária às quase 3 horas do espetáculo. O figurino pretende apenas dar o tom de época e dos personagens. Enfim, a técnica não contracena com a atuação, apenas a enfatiza. Os corredores do teatro são usados tanto para algumas entradas e saídas de personagens como para cenas em que o povo da cidade conversa. A ideia toda faz sentido se pensarmos num projeto que quer ser popular e incluir o espectador.
Dois detalhes me chamaram a atenção negativamente: o primeiro é uma cena no escuro, na qual se ouve em gravação a conversa entre o príncipe – uma criança que viria a ser feito rei – e seus próximos. O problema não é faltar cena esteticamente similar no espetáculo – ou seja, ela não dialoga. Nem o de parecer estranha à estetica geral. É, sim, a pobreza da solução da mesma em relação às restantes. Estranho. Sabe quando dá a impressão de que houve um problema que teve de ser solucionado às pressas? Pois é. O segundo detalhe é uma certa velocidade impressa às falas, principalmente no primeiro quarto do espetáculo: nem todos os atores conseguiam dar as devidas imagens às palavras.
Interessante levantar uma visão – se não me engano da especialista Bárbara Heliodora: o Bem , em Shakespeare, é o que tende à vida, e o Mal é o que tende à destruição da vida. Neste sentido, a montagem conta uma história de poder, na qual o Mal não depende exclusivamente do “vilão” Ricardo III: cada um dos personagens tem sua parcela de responsabilidade sobre os acontecimentos anteriores e que desembocam na ação presente. E cada um, de acordo com seus interesses, ajuda a construir “o Mal” da trama. Por isso que o tema não é o vilão, é o poder e a mesquinhez humana. E a montagem enfatiza isso.
Como não poderia deixar de ser, o ponto forte e o ponto fraco da montagem são as interpretações. Chico Carvalho – ganhador do prêmio Shell – dá uma aula de inteligência e de recursos dramáticos; Renata Zanetha faz o mesmo nas poucas cenas da Rainha Margareth. Graças que o primeiro está em quase todas as cenas e que a segunda faz crescer a peça em pontos importantes. O restante do elenco, no entanto, tem interpretação apenas razoável, alguns alternando momentos competentes (em cenas individuais ou de duplas) com outros fracos. Tive a impressão de que Lazarotto soube trabalhar bem os solilóquios e os diálogos entre dois atores, mas nas cenas coletivas fica a impressão de sua preocupação com o ator central, resultando em interpretações fracas do restante do elenco. Tudo parece melhorar um pouco com o correr da trama, mas essa impressão pode ser oriunda do fato do espectador já ter sido envolvido pela história.
Mas, no final, a soma dos ingredientes mostrou-se acertada: o público aplaudiu de pé durante bom tempo.