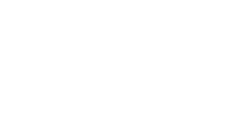Desde meus cinco anos de idade, quando aprendi a pedalar, que tenho na bicicleta a extensão das minhas próprias pernas e, por que não dizer, a ampliação da minha própria vida. Pedalando, literalmente, mantenho o equilíbrio da minha existência, das minhas atitudes, dos meus sonhos.
Aprendi a andar em uma velha Göricke, aro 28, que pertencia ao meu pai. Ele havia comprado a “magrela” de terceira ou quarta mão, não se sabe ao certo. Mas o fato é que a bicicleta vermelha e gigante (para o meu tamanho e idade à época), era um verdadeiro membro da nossa família.
Magricelo, quase sem força alguma, mas extremamente teimoso, pus em minha cabeça que eu aprenderia a andar de bicicleta naquele sábado inesquecível, no início da década de 1980. Sim, eu devia aprender a andar na única bicicleta que havia em casa, uma vez que comprar uma, especialmente para mim, estava totalmente fora de cogitação. Era um verdadeiro devaneio pensar em tal possibilidade.
A bicicleta estava lá no paiol, encostada há muito tempo, com um dos pneus furados, mas minha intenção era ressuscitá-la.
Fiz economias com as moedas e notas miúdas que ganhava da minha avó, juntei uma quantia que julgava considerável e encomendei a câmara nova, a fim de pôr em prática meu plano revolucionário: tornar-me um ciclista a qualquer custo.
A grana que eu tinha ajuntado, certamente foi inteirada, uma vez que o câmbio da época era totalmente variável devido a uma inflação que era motivo de vergonha no País. Mas o certo é que a câmara da “magrela” foi comprada e, num sábado de manhã, meu avô, depois de capinar na lavoura de arroz, voltou para casa e, sob a sombra de uma frondosa amoreira, pôs-se trabalhar na bicicleta.
Câmara trocada, pneus cheios, porcas apertadas, guidom ajustado, banco todo abaixado e as lágrimas de decepção em meus olhos prestes a escorrer: a bicicleta era muito alta para mim.
“Vai ter que crescer um bom tanto para aprender a andar de bicicleta. Até lá, só na garupa dos outros”, disse João Barbosa, compadre do meu avô e que seguidamente trabalhava conosco na lavoura.
Senti uma onda de calor tomar conta do meu corpo e os olhos arderem de vontade de chorar, mas eu não podia dar aquele gosto a Barbosa nem a ninguém. Eu aprenderia a andar de bicicleta naquele dia e não aceitava, de maneira alguma, sequer imaginar o contrário.
Meu avô me olhou complacente, sorriu e, com voz mansa, disse:
“Tem um jeito de você aprender. Teu pai aprendeu assim. Pedalar por baixo do varão. É mais difícil, um pouco perigoso, mas é melhor do que não aprender”.
“Eu acho que você devia esperar. Eu estou velho e nunca aprendi a andar de bicicleta. Não me faz falta. Pode quebrar os dentes, as pernas. Já pensou você aleijado?”, tornou a falar Barbosa, agourento.
Eu estava com muita raiva, mas não revidei, mesmo porque, destratar uma pessoa mais velha naquela época, era um verdadeiro despautério, o fim da linha, como costumavam dizer. Olhei para o meu avô e o inquiri em tom de imploração:
“Mas o senhor me ensina?!”.
“Claro. Eu seguro a bicicleta e você pedala. Olha bem lá na frente, porque se olhar para o pedal ou para a roda, vai perder o equilíbrio e pode cair”, enfatizou.
E lá fui eu, morrendo de medo, mas cheio de sonhos. Eu já me via pedalando rapidamente pelas estradas, descendo ladeiras, fazendo malabarismos sobre uma bela bicicleta adequada à minha idade, sem precisar esperar, como sugeria João Barbosa. Mas antes, eu tinha que enfrentar o calvário e me adaptar à minha realidade. “Eu tenho que aprender a andar de bicicleta”, disse para mim mesmo à guisa de desafio e desabafo.
Mas por uma fração de segundo, cheguei a pensar que Barbosa estava certo e que eu deveria esperar mais um tempo.
Ao tentar pedalar por dentro do quadro, só não desabei da bicicleta e não me estatelei de boca no chão, porque meu avô estava segurando firme, mas a corrente caiu e minha perna direita ficou toda perfurada pelos dentes pontiagudos e afiadíssimos da coroa. Não resisti e chorei. Minha avó ficou desesperada e Barbosa, com uma cuia de chimarrão na mão, ria e dizia:
“Eu te avisei, piá. Espere um pouco. Cresça e apareça”, zombou.
Enfurecido, sentindo a perna latejar e o joelho arder por causa de um esfolado que até então eu não sabia que tinha adquirido com o acidente, repus a corrente e empurrei a bicicleta até um cepo que ficava em frente à casa e que era usado como banco nas tardes de verão. Subi no cepo e, sem pensar em nada, montei na bicicleta.
Confesso que, a partir daquele dia, passei a acreditar piamente em milagres, pois meus pés, desde que eu desconsiderasse o selim, tocavam minimamente os pedais e eu podia, então, dar o giro de trezentos e sessenta graus. A bicicleta se movimentou e eu, pela primeira vez na vida, estava pedalando…
Não é preciso nem dizer que inúmeros e homéricos foram os tombos que levei naquele mesmo dia e pelos dias seguintes. O ferimento com a coroa, quando da primeira tentativa, era lesão para Band-Aid, diante dos arranhões, cortes e esfolados que adquiri nos próximos dias.
E, daquele instante em diante, o amor pela bicicleta tomou conta não só do meu corpo, mas também do meu espírito, da minha alma e do meu coração.
Em pouco menos de quarenta anos, pedalando quase que diariamente, minha história de amor para com a “magrela” é algo totalmente surreal.
Cresci, comecei a trabalhar e a comprar minhas bicicletas. Umas bonitas, outras nem tanto. Umas mais pesadas, outras mais leves. O fato é que fui colecionando histórias e sensações, tudo regado ao amor por pedalar, por manter o equilíbrio sobre as duas rodas.
Os tempos são outros, a tecnologia chegou para ficar e, a cada dia que passa, eu constato que a bicicleta, desde sua criação, é e sempre será o veículo do presente e do futuro.
A velha Göricke, aro 28, já não existe mais, pelo menos não neste plano físico. Mas em minha cabeça e em meu coração, ela faz morada. A partir daquele sábado longínquo da década de 1980, minha existência nunca mais foi a mesma, pois aprendi tudo sobre a liberdade e a beleza de ir e vir, sempre com base no equilíbrio e na força quase que sobrenatural dos pedais.