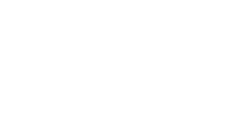Adriano, arquivo mudo
Paulo Emílio Catta Preta, professor no Instituto de Direito Público, do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, contou que seu cliente Adriano Magalhães da Nóbrega, capitão expulso da PM do Rio, lhe havia dito por telefone que sabia que logo seria arquivo queimado.
A profecia, cumprida logo depois, não resultou de premonição, inspiração nem pânico pela ameaça da morte próxima, mas, sobretudo, pela experiência. Ele sabia o que sabia e também sabia quanto valia seu silêncio.
Tudo isso parece óbvio e ninguém precisa de uma única prova para, no mínimo, ter consciência de que o massacre de Esplanada (BA), cujo cemitério foi erigido sob as ordens do profeta popular Antônio Conselheiro, eram favas contadas desde o dia em que o facínora foi descoberto na Bahia.
As circunstâncias da execução não admitem contestação. O chefão da milícia dita Escritório do Crime, que atua em Rio das Pedras, na Zona Oeste da área metropolitana do Rio de Janeiro, foi cercado por 70 policiais baianos e fluminenses na chácara do vereador pelo PSL Gilsinho de Dedé e não tinha como escapar.
O miliciano era muito forte, um “armário”, no jargão do povo, e manejava armas de fogo de diversos calibres e atualizada tecnologia, mas sua lenda não alcançou as miragens de ficção de pistoleiros como João de Carminha, que, segundo a lenda, virava telha dos casebres onde se escondia para escapar a cercos inescapáveis da polícia. Não tinha como transportar munição suficiente para furar o cerco nem dispunha de ajuda externa para evitar fome e sede durante um assédio mais longo.
Os policiais que fazem patrulha nas ruas de Londres sem portar armas andam com câmeras acopladas em seus uniformes para confirmar seus relatos a respeito de eventuais entreveros com suspeitos. O governo petista da Bahia e o antipetista do Rio de Janeiro convivem com a corrupção de seus aparatos policiais com intimidade que não lhes permite recorrer a esse meio de evitar truculência na repressão ao crime. Claro que ninguém teria a ideia de filmar o cerco a Adriano.
Vale, como sempre no Brasil do crime permitido e da repressão impune, a versão oficial
No caso, a palavra é dada ao governador do Rio, o ex-juiz Wilson Witzel:
Chegamos ao local do crime para prender, mas, infelizmente, o bandido que ali estava não quis se entregar, trocou tiros com a polícia e, infelizmente, faleceu, diz Witzel
O eufemismo do verbo empregado (faleceu, nada, foi executado) e o cínico advérbio de modo não conferem verossimilhança alguma à versão esfarrapada da “otoridade” encarregada.
A tentativa de recorrer à experiência da vítima comum de bandidos e policiais do Rio e da Bahia de não reagir para não morrer não é capaz de conferir um esgar de realismo à descrição. “Trocou tiros” com a polícia como, cara-pálida?
A retórica utilizada para realizar o impossível não altera duas circunstâncias
A primeira é que o alvo não se rebelou à voz de prisão, pois em nenhum momento os agentes da “lei” tiveram a intenção de levá-lo preso vivo.
As consequências da decisão de matar para não ter de prender serão a paz dos cemitérios do silêncio assegurado do morto e a certeza de que a possibilidade de um dia ser revelado o que de fato aconteceu em Esplanada é similar à de que outra execução, a de Marielle Franco e Anderson Gomes, na cidade que já foi maravilhosa, seja esclarecida pelas mesmas “otoridades”.
O comportamento posterior à chacina de um corpo só, o do bandido com nome de imperador romano e craque de futebol, confirma o alívio revelado pelos altos escalões do Estado, no mínimo, cúmplice.
O citado governador do Rio resumiu de forma implacável: a operação “obteve o resultado que se esperava”.
O que se espera agora é que a História se repita indefinidamente como tragédia sem nunca ter deixado de ser farsa, parodiando Marx inspirado em Hegel no excepcional O 18 Brumário de Luís Bonaparte
O presidente Jair Bolsonaro poderia ter aproveitado a ocasião para exigir que a morte do miliciano seja esclarecida e seus responsáveis, punidos. Isso não evitaria que seu discurso louvando o então tenente, processado e preso, em 2005, fosse, como será, lembrado.
Sempre em companhia, é claro, das decisões do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro, que definiu o desempenho da função do então PM, acusado de homicídio, com três termos elogiosos, “dedicação, brilhantismo e galhardia”, para justificar o decreto com que o condecorou com a mais alta honraria da Assembleia Legislativa, a Medalha Tiradentes – alferes que nunca foi chefão do crime. Mas, se tivesse dito o óbvio, pelo menos o presidente cumpriria seu dever de ofício de chefe de governo e de Estado.
Ou seja: tudo será como dantes no quartel, plenário ou palácio de Abrantes. Mas certos arquivos não se queimam, mesmo porque eles estão salvos e preservados nas nuvens e poderão ser abertos ao clicar de um link no computador. Assim como a glorificação dos oficiais do Bope da PM do Rio, sob cuja proteção Adriano se iniciou no crime, inspirado pelo heroico capitão Nascimento, encarnado pelo ídolo da esquerda Wagner Moura.